
Sónia Morais Santos
Aprender a viver na escuridão
No Centro de Nossa Senhora dos Anjos, em Lisboa, ensina-se quem vai cegar ou já cegou. História de vida dos que tiveram de aprender a viver na escuridão.
A directora do centro orgulha-se da evolução dos seus «meninos». Ainda que sejam homens e mulheres feitos, para Conceição Luís e para os professores desta escola serão sempre «meninos». Não por serem pessoas diminuídas, não é esse o sentido da palavra. Mas pelo renascimento que ali se opera. A equipa sabe que, quando chegam, vêm esmagados pelo peso da escuridão. Os que ainda têm uma visão residual parecem querer à força fixar no cérebro a última imagem, sem saber ainda que imagem será a derradeira. Aqueles que já deixaram de ver, por outro lado, perdem o norte, perdem a noção espácio-temporal, sentem que perdem tudo.
Como o Daniel, por exemplo, um rapaz que já deixou o centro, mas que marcou, talvez para sempre, a vida de Conceição Luís. «Quando cá entrou, o Daniel só queria dormir. E eu achava que era por estar deprimido. Mas um dia ele explicou-me. Queria dormir porque a dormir via.» Esta história teve um final feliz. Daniel largou o sono e aprendeu a viver acordado sem o aconchego das imagens. Conseguiu ser integrado num curso de informática para normovisuais, onde tem tido as melhores notas da turma. Tem uma namorada a quem não morreram os olhos e que viu nele o homem que é e não a deficiência que tem. Um caso de sucesso que dá alento a quem ensina e a quem chega para aprender.
Os corredores desta escola, antigo convento, são longos e fazem ângulos de 90°. Há escadas e degraus e desníveis e obstáculos. O edifício, do século XVII, declarado património nacional, não tem as condições absolutamente perfeitas para deficientes visuais. E ainda bem. Porque aqui o que se pretende é ensinar a viver como os outros. Os que andam lá fora, de carro, à pressa, a olharem sem ver, sem darem o valor ao que lhes passa diante da vista. Os outros. Que discriminam, que desprezam, que esquecem que já foram amigos, que passam sem falar porque é fácil fazer «vista grossa» a quem não vê. «Perdi muitos amigos, mas acho que é normal.
Quem é que tem paciência para se relacionar com um ceguinho? Para muitas pessoas passamos a ser um estorvo. E os outros já têm chatices que cheguem na vida», disse às tantas o Tiago, tornando a perpetuar as palavras. Os outros. Que estacionam os carros em cima dos passeios, dificultando a passagem de quem tem o abismo prometido em cada passo. O que se pretende no Centro de Nossa Senhora dos Anjos é que os cegos vivam como os outros que eles já foram. Com limitações. Mas com a autonomia que jamais julgaram possível.
Talvez a aula mais difícil de aceitar nesta escola seja a de Mobilidade. A disciplina divide-se em duas, Mobilidade I e Mobilidade II. Numa primeira fase, há que ensinar quem está à beira de ficar cego (ou acabou de deixar de ver) a mover-se dentro do centro. A treinar a memória, tão acostumada a amparar-se nas imagens. A adestrar o corpo, tão desconexo e desorientado quando as luzes se apagam.
Depois, vem a dor maior. O momento em que uma bengala é passada para as mãos de um cego recente ou de alguém que ainda vê. Pegar na bengala é assumir a deficiência. Sobretudo quando se passa para o segundo nível, para a aula de Mobilidade II, que não tem lugar no recolhimento da escola, mas sim nessa exibição pública que é a rua.
Margarida tem 39 anos e chegou à escola há poucos dias. Não cegou ainda, mas sabe que os dias de (baixa) visão estão por um fio. Aquilo que vislumbra, nos tempos que correm, é escasso, muito escasso. Mas aqui, neste sítio de cegos, quem vê – ainda que pouco – é rei. Quem o afirma é a directora do centro, acostumada a observar as teias relacionais que se criam entre aqueles para quem já é sempre de noite e os outros, que conseguem ainda lobrigar os contornos. «O provérbio popular que diz que “Em terra de cegos quem tem um olho é rei” é, de facto, verdadeiro. Aqui nota-se que existe um respeito, uma consideração, uma certa estima por quem ainda vê, nem que sejam apenas sombras.»
O professor de Mobilidade, António Balsinha, inicia então a primeira aula da nova aluna. «Como faz para caminhar no centro?» Margarida, habitualmente espaventosa, exuberante, procura concentrar-se e não brincar: «Quando há corredores compridos, ponho a mão na parede.» O professor diz que sim, está certo, e explica: «Para nós sabermos para onde temos de ir precisamos de ganhar referências. O que são as nossas referências aqui, neste corredor? São as portas. Quando chegamos à porta do jardim, temos outra referência. Toque lá nisto que aqui está. É mais frio ou menos frio do que a parede?»
Margarida fecha os olhos, tapando a visão que lhe sobra, e apalpa o objecto: «É mais frio. É um extintor!» Balsinha sorri com a satisfação da descoberta, mas deixa um aviso relevante: «O extintor é apenas uma semi-referência. Porque alguém pode levá-lo. Podem alterar a sua posição e assim desorientar quem está à espera de o encontrar com as mãos. Esta é a sua primeira lição: o importante é que a referência seja fixa. Mesmo perto de casa, as referências a que temos de nos agarrar são as que não mudam: um candeeiro, um pilar, uma casa.»
Margarida acena com a cabeça e prepara-se para começar a caminhada pela escola, colhendo referências fixas, contando portas, memorizando os espaços. Vai de olhos fechados porque sabe que o glaucoma congénito está a deteriorar a sua percepção do Mundo de dia para dia. «Já que vou ficar cega, quero treinar-me para esse momento como deve de ser. Fecho os olhos porque não quero fazer isto com batota. É da maneira que, quando estiver vesga de todo, já sei andar sem partir os queixos.» E assim, com as mãos a tactear as paredes e as pálpebras bem cerradas, Margarida vai decorando o espaço do centro, apurando outros sentidos, preparando o corpo para eventuais embates.
A postura corporal de quem acabou de cegar revela o medo do imprevisto, o medo da queda, o medo da dor. A postura do Tiago é um bom exemplo. Apesar de ter cegado há três anos, o menino de imprestáveis olhos azuis esteve três anos confinado ao seu quarto. Negando o mundo, negando a sorte. É por isso que hoje o seu corpo é ainda um corpo errante, deformado pelo receio do passo seguinte. Os ombros descaíram, as pernas caminham uma a seguir à outra, demasiado abertas, o pescoço inclinado para a frente, como se quisesse desvendar o indesvendável. Apesar de este corpo revelar inexperiência no escuro, Tiago já passou para o segundo nível da aula de Mobilidade. Tem nas mãos a bengala, essa espécie de emblema que grita aos outros que ali vai quem não vê. Tiago procura não pensar nisso. A concentração é essencial quando se anda na rua. Os ouvidos têm um papel fundamental para escutar os semáforos com dispositivos para invisuais, para perceber se os motores dos carros se aproximam ou se afastam.
Tiago tem uma t-shirt a dizer «Racing». Humor negro, novamente. «Aos 18 anos, em vez de tirar a carta, ando aqui a fazer racing com a bengala, já viu? É o que se pode arranjar.»
Um buraco gigantesco na calçada interrompe-lhe o gracejo cruel. O corpo errante desequilibra-se, a mão procura no ar um apoio. Tiago não chega a cair, mas foi por pouco. «Até a pé me espeto, imagine o que seria de carro… Grande buracão, hã, Renata?» A professora, que lhe deitou a mão na altura crítica, lastima que a cidade não seja mais cuidadosa com quem não teve a sorte dos outros. Esses mesmos, que andam na rua, de carro, à pressa, a olhar sem ver, sem dar o valor ao que lhes passa diante da vista. Os outros.
«A bengala é o BI da minha incapacidade.»
Praticamente, todas as aulas desta escola são individuais. Um professor para um aluno. Há algumas excepções, como a aula de Actividade Motora ou a de Braille. Quase todos gostam da primeira, alguns rejeitam a segunda por ser, tal como a bengala, mais um emblema exclusivo da cegueira.
António Carlos tem 43 anos, é professor de Braille, e há 17 anos que lecciona no Centro de Nossa Senhora dos Anjos. Não é cego, mas o que vislumbra também não lhe permite dizer que vê. António sofre da doença de Stargat (uma espécie de retinopatia) e tem menos de 10% de visão. O professor já ensinou o Braille a muita gente, mas também já assistiu a vários casos de rejeição ao sistema de leitura para cegos: «Já tive aqui um caso de um senhor que trabalhava em televisão antes de cegar e que rejeitou completamente o Braille. Não queria, não conseguia. Era-lhe impossível admitir que precisava. Como este há alguns. A maioria, porém, começa por sentir o desconforto de assumir o Braille, mas resigna-se e acaba por aprender.»
O preconceito em relação à deficiência começa nos próprios deficientes. António, de 33 anos, está no centro há pouco tempo. Nasceu a ver o que os outros bebés vêem, mas uma doença grave em recém-nascido deixou-lhe mazelas nos olhos. A miopia foi aumentando com o passar do tempo, e aos 20 anos António já só tinha 50% de visão. Depois, vieram os descolamentos de retina. Do olho direito primeiro, do olho esquerdo depois. Uns atrás dos outros.
Ao todo, já se submeteu a sete intervenções cirúrgicas. Está cego. «O pior para mim é a bengala. Custa-me que me vejam na rua, que olhem para mim e pensem: “Lá vai o ceguinho, coitado.” Acho que, se calhar, também já olhei para outras pessoas dessa maneira e não queria que olhassem para mim assim. É preconceito, eu sei, mas não está a ser fácil. O Braille também custa, mas é mais escondido, percebe? Estou dentro de casa a ler em Braille, ninguém tem de ver. Agora, a bengala? A bengala é o BI da minha incapacidade.»
A aula de Actividade Motora é um momento de descontracção. Ana Paula Duarte, de 35 anos, é a professora que espalha os colchões no chão e prepara as bolas que António e Margarida hão-de atirar um ao outro. Para quem está de fora pode ser pungente ver duas pessoas, uma cega e a outra com um miserável sobejo de 2,3% de visão num único olho, a lançarem com as mãos uma bola com guizos dentro, tentando orientá-la no sentido do outro. A bola desvia-se do parceiro vezes sem fim, vai parar ao fundo da sala, ao canto da sala, a sítios diversos da sala que não as mãos ou o colo do outro. Com o decorrer da aula, os dois alunos começam a melhorar. Aprendem – sem saber que aprendem – a ouvir os guizos, a escutar se estão perto ou se ainda vêm longe, se chegam da esquerda ou da direita.
Ana Paula explica que estas aulas «servem para contrariar o sedentarismo e o medo do movimento que um cego recente traz», mas também para «estimular o equilíbrio, a orientação no espaço, a percepção do som». É que há uma grande diferença entre quem nasceu cego e quem deixa de repente de ver: «Quem é cego de nascença aprendeu desde sempre a aproveitar os pontos de referência e a valorizar os outros sentidos. Quem cegou subitamente não tem essa capacidade, essa percepção. É importante estimulá-la.»
O objectivo desta escola é que quem entra titubeante saia capaz. E por isso as aulas pretendem abranger várias competências e áreas do saber. Do Braille à Actividade Motora, passando pela Mobilidade e pela Terapia Ocupacional, sem esquecer a Oficina, as Técnicas de Informação e Comunicação e, claro, as Actividades da Vida Diária (AVD).
Nesta última disciplina, aprende-se a lidar com a vida de todos os dias sem contar com a ajuda dos olhos. Coisas aparentemente tão simples como distinguir as moedas e as notas, levantar dinheiro no Multibanco ou vestir uma roupa podem revelar-se verdadeiros desafios para quem está completamente às escuras. É preciso estudar estratégias para distinguir as peças de roupa, para vestir com gosto, combinando cores. Aqui, neste centro, os detalhes não são descurados. Conceição Luís sabe bem que os pormenores, para um deficiente, se transformam em «pormaiores». «Um cego não tem de ser alguém sem brio. Não tem de ser uma pessoa descuidada, desleixada com a imagem. Um cego pode e deve ter preocupações com o seu aspecto. Porque ainda que o próprio não se veja, os outros vêem.»
Os outros vêem. E porque não recebem de volta um olhar que lhes recrimine a contemplação, os outros podem demorar-se a mirar os que não vêem. Podem ficar o tempo que quiserem fitando o cego, porque este jamais poderá saber que é observado assim, desta forma invasiva e despudorada, pelos outros. Por isso, é bom que quem não vê não descure os detalhes. E se aprume orgulhosamente para mostrar que é como os demais. Gente.
Avelino vai ter a primeira aula de Cozinha. Dona Emília, cozinheira de profissão, é a professora que o vai guiar. «Hoje, como é o primeiro dia, vai fazer uma coisinha simples: bife com batata frita.» Avelino está só e, por isso, em regime de internato. É um homem triste e de poucas palavras. Se é verdade que os olhos são o espelho da alma, nesta escola é preciso muito mais do que olhar as pessoas nos olhos para saber e sentir e compreender o que lhes vai na alma. Avelino é um homem triste e isso não se vê nos olhos, baços, improfícuos, vãos. A tristeza nota-se nos movimentos, nos silêncios, no sorriso.
Avelino pica o alho e corta as batatas em palitos. Aflige vê-lo manejar a faca, os dedos a tactearem os produtos, a lâmina apontada aos alimentos, tão próxima das mãos. O aluno apalpa o ar à procura dos sítios, das gavetas, dos armários, do fogão. «Vai encostar o isqueiro ao bico e só depois é que abre o gás. Vamos lá. Agora, passa a mão esquerda à procura do quente para ver se está aceso. A mão alta, para não se queimar!» Avelino cumpre escrupulosamente tudo o que a dona Emília lhe diz. «Muito bem! Colocou muito bem, senhor Avelino!»
O aluno sorri mais que o normal, satisfeito com os elogios. Emília é uma das professoras para quem os alunos são e serão sempre os seus «meninos». É como uma mãe, atenta e afectuosa. Mesmo no trato: «Agora, vamos procurar a frigideira. É aí, senhor Avelino. Está aí a frigideirinha. Pronto, pronto. Exactamente. Vai cortar um bocadinho de margarina para podermos fritar a bifaninha. Não é nessa bancadinha, é à direita. Exactamente! Gosta da batata bem fritinha, senhor Avelino? Agora, para escorrer tem de levantar esta redezinha. O pano não, senhor Avelino! É que eu hoje estou cá consigo. Mas em casa, sozinho, ainda lhe pega o fogo. E agora vai buscar o seu pratinho e vai colocar as batatinhas no seu pratinho.»
Alguns podem ver esta citação com maus olhos, com os olhos de quem sente que aqui há superioridade de um e infantilização do outro. Para a dona Emília é apenas e tão-só carinho e afeição pelos seus «meninos». E quem lá está sabe que são sentimentos genuínos.
Até para almoçar os olhos fazem falta
O dia de aniversário do Centro de Reabilitação de Nossa Senhora dos Anjos é um dia especial para todos. Quarenta e cinco anos é uma idade de respeito e Conceição Luís prepara sempre uma festa rija com os antigos e actuais alunos do centro.
As mesas estão postas no jardim e a azáfama é grande. Firmino, um dos alunos, está encarregue da música. Trouxe de casa a mesa de mistura e a colecção de CDS, mas o som não parece disposto a sair de dentro das colunas. Carlos, de 40 anos, é o mais animado dos estudantes do centro e hoje está particularmente alegre. Pega na mão da namorada, Ester, que conheceu na escola, e com a voz colocada a imitar Emanuel trauteia cantigas românticas que a fazem ruborescer: «Felicidade… felicidade… eu te prometo a ti minha querida. Felicidade… felicidade… eu te desejo, amor da minha vida.»
Carlos tem uma história de vida complicada. Nunca conseguiu ler um livro, sempre teve baixa visão, mas há quatro anos cegou por completo. Trabalhou 26 anos num armazém, mas quando o último resquício de luz se apagou em definitivo acabou reformado por incapacidade, a receber 257 euros de pensão por mês. Vive sozinho numa casa arrendada a que falta quase tudo, ali perto de Carnide. Já se queixou, já pediu uma casa digna à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal, a Deus e ao Diabo. Já tentou emprego, mas aos 40 anos e cego não trabalha quem quer.
Ester escuta o namorado a falar, ao mesmo tempo que embala o corpo num balanço ritmado que já faz parte dela. A sua existência talvez consiga ser ainda mais difícil. Tem 27 anos e está, pela primeira vez, a contactar com o Mundo. Desde miúda que vive no Convento dos Cardais, porque numa família pobre com 16 filhos «um cego não cabe, não encaixa, é um empecilho».
Ester e Carlos apaixonaram-se ao primeiro toque da bengala. «Quando eu cheguei ao centro, ele apresentou-se e disse que queria dois beijinhos. Mas a assistente social avisou: “Olhe lá, vá com calminha que a menina Ester é muito tímida.” Ele ficou calado, sentou-se ao pé de mim e notei pelo som da bengala que estava triste.» A bengala, tão odiada por quem acaba de ficar cego, emblema da imperfeição que se quer negar, acaba mais tarde por ser uma espécie de olhos, espelho da alma. Pelo modo como ela soa, um cego pode saber muito sobre o que vai dentro do outro.
Mas o dia não está para tristezas. As mesas, todas juntas, fazem um longo comboio. Devem estar mais de 50 pessoas. Umas cegas, outras com baixíssima visão. As funcionárias servem o arroz de frango e há vinho e refrigerantes e conversas entre quem já esteve no centro e quem está agora a aprender a viver no escuro.
E é então que fica claro que nem o simples acto de comer é fácil para quem não vê. Cada garfada é uma incógnita, um enigma, uma surpresa. O que se estará a meter à boca? Será frango? Terá osso? Trará pele? É, além do mais, um exercício de equilibrismo, este. Metade do que se consegue apanhar acaba por cair no percurso que vai do prato até à boca. As bocas, ávidas do manjar, trincam o garfo vazio inúmeras vezes, numa frustração confrangedora a que assistem, sem saber o que fazer, os outros. Os que nunca se deram conta que até para almoçar os olhos fazem falta.
Uma das convidadas pergunta pelo vinho. Alguém responde: «Ó minha querida, está aqui, não quero que lhe falte nada.» A rapariga sorri, mas quer saber para quem sorri: «Quem é que me está a responder?». Numa outra conversa, um rapaz, cego há pouco tempo, esquece que está rodeado de gente que não vê. E para dizer que a amiga é doida, diz apenas: «Ela é …», terminando a frase com o dedo indicador a bater na testa. Os outros, cegos também, nunca saberão o que é que a amiga é, afinal.
No fim do almoço, a dança. Firmino conseguiu pôr a mesa de mistura a funcionar e a música espalha-se pelo pátio. Os alunos e ex-alunos juntam-se e dançam como se vissem o caminho; os outros aplaudem o baile como se tivessem visto os passos dos que dançaram. O humor, negro, continua vivo e de boa saúde no Centro de Nossa Senhora dos Anjos.
Um senhor pede desculpa ao Carlos por se ter posto diante dele. Carlos ri: «Não faz mal. Pode pôr-se à minha frente à vontade… Eu também não vejo nada!» As gargalhadas regressam, ferozes. Como da primeira vez. Quando a pergunta ficou a ecoar na sala, nas paredes, no espaço. A pergunta que permaneceu suspensa no tempo e que ficará – talvez para sempre – agarrada à memória: «Quer que eu veja o seu horário, dona Maria José?»
In, Revista Selecções do Reader’s Digest, Janeiro 2009


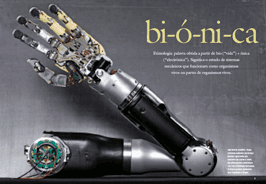
Comentários
Enviar um comentário